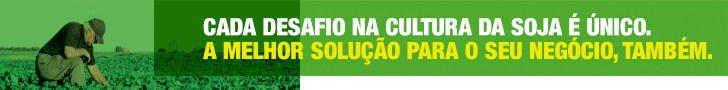A soja (Glycine max (L.) Merrill) pertence à família Fabaceae, é originaria da Ásia, sendo considerada uma das culturas mais antigas presentes na região (COSTA, 1996). Atualmente esta cultura representa uma das principais commodities produzidas no mundo, sendo utilizada tanto na alimentação humana e animal, como na produção de biodiesel. Esta leguminosa possui expressiva magnitude econômica em abrangência mundial. No Brasil, na safra de 2018/2019 a produção de soja alcançou recorde de 114 milhões de toneladas. Atualmente a cultura da soja corresponde à cerca de 57% da área total semeada com grãos no país (CONAB, 2019).
O aumento significativo ocorrente na produção de soja ao longo do tempo pode ser atribuído a diversos aspectos, destacando o elevado teor de proteínas (em torno de 40%) de excelente qualidade. Possui considerável teor de óleo (em torno de 20%), podendo também ser utilizado na produção de biocombustíveis. Além da cultura apresentar alta liquidez e demanda, principalmente, nas últimas décadas, houve expressivo aumento da oferta de tecnologias de produção, possibilitando ampliar consideravelmente a área e a produtividade da oleaginosa (HIRAKURI & LAZZAROTTO, 2011).
Existem diversos fatores que podem ocasionar perdas na produção, dentre eles, pragas, doenças, condições climáticas e manejo. Aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematoides e vírus já foram identificados no Brasil. Esse número continua aumentando devido à expansão da soja para novas áreas e como consequência do monocultivo. Algumas doenças podem ocasionar perdas de até 100% (EMBRAPA, 2010).
Dessa maneira, a ocorrência de doenças na cultura, acarreta, muitas vezes, um aumento significativo no custo de produção, e ao mesmo tempo, maior contaminação do meio ambiente causada pelo uso excessivo e indiscriminado de insumos agrícolas visando controlar os patógenos. Neste sentido, entre as principais doenças, se destacam as causadas pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary, patógeno que causador do mofo-branco, o qual provoca grandes prejuízos na cultura em condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento.
Leia também: Mofo branco e sua relação com a rotação de culturas
O mofo-branco, é uma doença causada pelo fungo S. sclerotiorum (Lib.) De Bary, patógeno cosmopolita e inespecífico, podendo infectar mais de 400 espécies de plantas, entre elas, monocotiledôneas e dicotiledôneas (BOLAND & HALL, 1994), destacando-se: a soja, o girassol, a canola, a ervilha, o feijão, a alfafa, o fumo, o tomate e a batata (LEITE, 2005), e também plantas infestantes (VIEIRA, 1988).
O patógeno é um habitante do solo, necrotrófico e distribuído mundialmente. Estima-se que os danos causados pela doença sejam de 10 a 20%, porem, perdas superiores a 50% podem ocorrer ataques severos (CASSETARI NETO et al., 2010). De acordo com Grau e Hartman (1999), para cada 10% de incidência da doença, os danos atingiram 250 kg ha-1. Em outros trabalhos, a redução do rendimento variou de 170 a 335 kg ha-1, para cada 10% de incidência da doença no campo (YANG et al., 1999), e de 147 a 263 kg ha-1 (HOFFMAN et al., 1998), ocorrendo variação de acordo com a cultivar utilizada.
Na cultura da soja, a doença só foi constatada no Brasil em 1975, no Estado do Paraná, causando perdas de até 70% de plantas infectadas em lavouras destinadas à produção de sementes (FERREIRA et. al., 1981). Estima-se que 6 milhões de hectares no Brasil apresentam a doença, número preocupante já que a área com agricultura em nosso País é de 70 milhões de hectares cultivados, ou seja 8,6% das áreas estão com o patógeno (VENANCIO, 2015).
Atualmente, o mofo-branco é considerado uma doença emergente, de grande importância econômica, especialmente em regiões que apresentam clima mais ameno, como nas condições encontradas nas regiões Sul e Sudeste, onde ocorrem temperaturas noturnas mais baixar (CASSETARI NETO et al., 2010). Os prejuízos diretos ocorrem em função da queda na produtividade da lavoura e, dentre as perdas indiretas, estão o aumento do custo de produção, em função do emprego de métodos de controle e, o mais importante, a condenação de áreas para a produção de sementes (PAULA JÚNIOR et al., 2010).
Leia também: Trichoderma versus Mofo branco
A característica mais marcante deste patógeno é a formação de estruturas de resistência denominadas de escleródios, constituídos por um enovelamento de hifas, de coloração inicialmente branca tornando-se negros posteriormente, que podem permanecer viáveis no solo por um longo período, garantindo sua sobrevivência. A coloração escura é resultado da presença de melanina, pigmento que possivelmente desempenha papel importante na proteção contra condições adversas e na degradação microbiana (BOLTON et al., 2006). Possuem formato e tamanho irregular, variando de acordo com o hospedeiro.
A sobrevivência do patógeno ocorre na forma de micélio dormente em sementes, ou por escleródios presentes no solo ou acompanhando a massa de sementes, os quais pode germinar miceliogenicamente ou carpogênicamente (CANTERI et al., 1999; PAULA JÚNIOR et al., 2010). A associação deste patógeno com a semente constitui uma das vias mais efetivas de introdução e disseminação de inoculo em novas regiões (GOULART, 2005).
Sementes infectadas são pequenas, sem brilho, com descoloração, enrugamento e peso menor, ou também podem se apresentar assintomáticas (CANTERI et al., 1999; PAULA JÚNIOR et al., 2010). Podem apodrecer e não germinar, ocorrendo a formação de escleródios (CANTERI et al., 1999; PAULA JÚNIOR et al., 2010). Estes escleródios, quando no solo ou nos restos culturais, podem ser disseminados por agua de enxurrada e de irrigação, implementos agrícolas e animais (PAULA JÚNIOR et al., 2010), contribuindo na dispersão da doença dentro da área de cultivo ou para outros locais, além da possível introdução em áreas nas quais a doença não ocorre. Aquelas que germinam podem resultar em plantas doentes ou então morrerem logo em seguida, caracterizando o sintoma de tombamento (PAULA JÚNIOR et al., 2010).
O beneficiamento de pode ser eficiente na eliminação de escleródios, especialmente as etapas de pré-limpeza, realizadas pela máquina de ventilador e peneiras, operações que reduzem significativamente o número de escleródios do lote de sementes (TELES, 2012). Porém, esta etapa não seleciona as sementes com a presença do micélio dormente. O período de sobrevivência do patógeno em sementes com micélio dormente no tegumento e nos cotilédones, pode ser superior a 5 anos, dependendo das condições de armazenamento (CANTERI et al., 1999).
Em 27 de fevereiro de 2009 foi colocada em consulta pública a Portaria Nº 47 do MAPA, que estabelece níveis de tolerância de pragas para Pragas Não Quarentenárias Regulamentadas (PQNR). No caso da soja, foi proposto nível de tolerância 0 (zero) para a presença de escleródios de S. sclerotiorum, em 500 gramas de sementes secas, inspecionadas com lente de aumento. Todavia, vale ressaltar que o fungo pode também ser disseminado via micélio dormente, infectando a semente. Yang et al. (1998) comprovaram a transmissão de S. sclerotiorum pela semente de soja internamente infectada, demonstrando que a mesma é um agente de disseminação do patógeno para novas áreas.
Diante da importância da doença e dificuldade de controle após a sua introdução em uma área, a detecção do patógeno em sementes e o uso de sementes sadias são medidas indispensáveis. Nesse contexto, testes de sanidade são essenciais na detecção segura do patógeno em sementes.
Dentre os métodos recomendados para a detecção de S. sclerotiorum em sementes pela Regas de Analises de Sementes (BRASIL, 2009), encontram-se o meio de cultura de cultura ágar-bromofenol (Neon), incubação em rolo de papel e em papel filtro. Chama-se a atenção para o método Neon-S o qual baseia-se na detecção do patógeno por meio da alteração da coloração, devido a produção de ácido oxálico pelo fungo, onde a acidificação do meio de cultura adultera sua cor, de azul para amarelo. Esse método possibilita a detecção do micélio dormente em sementes em menor tempo em comparação aos outros métodos de detecção (JULIATTI, 2017).
Dados relacionados a métodos de detecção e incidência do micélio dormente em sementes, são fundamentais para elucidar a real importância da semente como forma de disseminação do fungo em diferentes lavouras locais, bem como a sua possível introdução em áreas livres da doença e, dessa forma, estabelecer estratégias de controle adequadas.
REFERÊNCIAS
BOLAND, G.J.; HALL, R. Index of plant hosts of Sclerotinia sclerotiorum. Canadian Journal of Plant Pathology. v.16, p.93-108, 1994.
BOLTON, M. D.; THOMMA, B. P. H. J.; NELSON, B. D. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary: biology and molecular traits of a cosmopolitan pathogen. Molecular Plant Pathology, v.7, n.1, p.1-16, 2006.
BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análises de sementes. Brasília, DF: SNDA/DNDV/CLAVE, 2009. 365 p.
CASSETARI NETO, D.; MACHADO, A. Q.; SILVA, R. A. Manual de doenças da soja. São Paulo: Cheminova Brasil LTDA, 2010. 57 p.
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento de safra brasileira: grãos. Décimo primeiro levantamento. V. 9 – SAFRA 2018/19- N. 1. Brasília: Conab, 2019.
COSTA, J. A. Cultura da soja. Porto Alegre: I. Manica; J. A. Costa, 1996. 223 p.
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Tecnologias de produção de soja – região central do Brasil, 2011. Londrina: Embrapa Soja: Embrapa Cerrados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2010, 255p.
FERREIRA, L.P; LEHMAN, P.S; ALMEIDA, A.M.R. Moléstias e seu controle. In: MIYASAKA, S.J; MEDINA, J.C. (eds.) A soja no Brasil. Campinas: IAC-ITAL, 1981. p.603-627.
GRAU, C. R.; HARTMAN, G. L. Sclerotinia stem rot. In: HARTMAN, G. L.; SINCLAIR, J. B.; RUPE, J. C. Compendium of soybean diseases. 4th ed. Saint Paul: American Phytopathological Society, 1999. p. 46-48.
HIRAKURI, M. H.; LAZZAROTTO, J. J. Evolução e perspectivas de desempenho econômico associadas com a produção de soja nos contextos mundial e brasileiro. Embrapa Soja. Documentos 319. Londrina, Pr. 2011.
HOFFMAN, D. D., HARTMAN, G. L., MUELLER, D. S., LEITZ, R. A., NICKELL, C. D., AND PEDERSEN, W. L. Yield and seed quality of soybean cultivars infected with Sclerotinia sclerotiorum. Plant Disease, v. 82, n. 7, p. 826-829, 1998.
JULIATTI, F. C. , SANTOS, R. R., MORAIS, T. P. Detecção de Sclerotinia sclerotiorum em sementes de soja e de feijão. LAMIP – Laboratório de Micologia e Proteção de Plantas Plantas, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Ciências Agrárias, Campus Umuarama, 2017.
LEITE, R. M. V. B. C. Ocorrência de doenças causadas por Sclerotinia sclerotiorum em girassol e soja. Londrina: Embrapa Soja, 2005. 3p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 76).
PAULA JÚNIOR, T. J.; VIEIRA, R. F.; LOBO JÚNIOR, M.; MORANDI, M. A. B.; CARNEIRO, J. E. S. Mofo branco. In: PRIA, M. D.; SILVA, O C. Cultura do feijão: doenças e controle. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2010. Cap 6 e 7.
TELES, H. F. Qualidade de sementes de soja e incidência de Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary em função do beneficiamento e armazenamento. 2012. 185 p. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.
VENANCIO, W.S. Eficiência de fungicidas para controle de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em soja, na safra 2013/2014 – resultados sumarizados dos ensaios cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2015. 4 p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 109).
VIEIRA, R. Doenças e pragas do feijoeiro. Viçosa: UFU, p. 231, 1988.
YANG, X. B., WORKENEH, F., LUNDEEN, P. First report of sclerotium production by Sclerotinia sclerotiorum in soil on infected soybean seeds. Plant Disease, v. 82, p. 264, 1998.
YANG, X. B.; LUNDEEN, P.; UPHOFF, D. Soybean varietal response and yield caused by Sclerotinia sclerotiorum. Plant Disease, Saint Paul, v. 83, n. 5, p. 456-461, 1999.
Escrito por:
Docente do curso de Agronomia do Cesurg: Eng. Agrª. Msc. Thais Pollon Zanatta.
Discentes do Curso de Agronomia do Cesurg: Ângela Lampert, Carolaine Diêniffer Sturmer, Sheron Caroliny De Quadros Trai, Vitória Azeredo Oliveira.
Foto de capa: Sidney Hideo Fujrvara – DuPont Pioneer